Deana Barroqueiro: Salvar personagens históricas do esquecimento
Tem uma obra "absolutamente singular" no campo do romance histórico, ocupando agora o "lugar da grande mestria do desaparecido Fernando Campos", como assinala Miguel Real na crítica, á frente publicada, a 1640, acabado de sair. E é sobre este romance com mais de 800 páginas sobre o período da Restauração, 2º volume de uma trilogia cujo 3º será sobre os filhos de D. João IV, é sobre 1640 mas também sobre aquele género literário, e muito mais, que falamos com a escritora
Maria Leonor Nunes
“Não vivo da escrita”, garante. “Vivo para a escrita”. Escrever é mesmo, para ela, uma espécie de bulimia, uma necessidade insaciável que “engole”, “devora” os seus dias. E são dias inteiros, às vezes 12 incansáveis horas, “colada” ao computador, consumidas por essa voragem. Até pela investigação histórica minuciosa e aturada que os seus livros implicam. E escreve-os sempre em simultâneo, pelo menos um par de histórias a correr ao mesmo tempo. Até que uma toma a dianteira e a arrebata de tal modo que a leva até ao fim.Sempre romances, sempre históricos. Deana Barroqueiro, 72 anos, nem equaciona a hipótese de experimentar outro género. Tem a paixão da História, apesar de ter trabalhado sempre no domínio da Literatura. E procura resgatar ao esquecimento figuras “épicas” do passado, que viram a sua glória desvanecer-se na poeira dos tempos. Tal como enquadrar literariamente determinadas épocas, reconstituindo não apenas factos, mas também os costumes e as mentalidades. É o que faz em 1640, que agora chega às livrarias, numa edição Casa das Letras.
São mais de 800 páginas, em que efabula sobre o período da Restauração, cruzando quatro personagens, todas ligadas à palavra: o poeta Brás Garcia de Mascarenhas, a poetisa Soror Violante do Céu, o prosador Francisco Manuel de Melo e Padre António Vieira. Um romance em que as quis “reviver”, na primeira pessoa.
Deana Barroqueiro nasceu nos Estados Unidos e veio para Portugal com dois anos. Licenciou-se em Literaturas e foi professora. Até que a sua curiosidade se cruzou com a História, situando-se entre os séculos XV e XVII. E sentiu que tinha muito que contar. Começou pelos Descobrimentos, com uma série juvenil e a trilogia de que fazem parte O Navegador da Passagem, O Espião de D. João II e O Corsário dos Sete Mares. Seguiu-se-lhes S. Sebastião e o Vidente, a que agora acrescenta 1640. Mas já pensa noutras personagens que “dão pano para mangas”.
Jornal de Letras: 1640 completa um díptico sobre a Restauração?
Deana Barroqueiro: Penso mesmo fazer um tríptico. D. Sebastião e o Vidente termina com a batalha de Alcácer Quibir e a consequente perda da nossa independência. Depois, segue-se o período conturbado dos Filipes e a Restauração, em 1640. E aí, pensei numa personagem, Brás Garcia de Mascarenhas.
Um herói da Restauração?
E o grande épico do século XVII, que quis salvar do esquecimento Foi a partir dessa personagem que o romance tomou forma? Comecei a escrever sobre o período que antecedeu 1640 e as convulsões que se seguiram. O tema era fascinante, mas difícil. Entretanto, tinha muito material sobre os Descobrimentos, porque tinha feito os sete volumes da coleção juvenil. E como tenho que estar sempre a trabalhar em mais de um livro ao mesmo tempo…
Porquê?
Para passar para outro, quando fico paralisada num, por causa de algum problema que surja no desenrolar da narrativa, ou porque me enjoo, porque não consigo estar a fazer a mesma coisa durante muito tempo. Por isso, gosto de escrever dois ou três romances em simultâneo. Até que um deles toma o freio nos dentes… Foi o que aconteceu, por exemplo, com O Navegador da Passagem, porque de repente começaram a surgir-me as figuras dos Descobrimentos.
De permeio com a história de 1640?
Sim. Até saíram também O Espião de D. João II e O Corsário dos Sete Mares, que completaram a trilogia. E entretanto, ia sempre voltando ao Brás Garcia de Mascarenhas. O romance ainda nem tinha nome.
O que a fez interessar-se por essa figura?
Gosto muito de dar aos leitores personagens verdadeiras da nossa História, os grandes valores, quase sempre literatos e que são hoje praticamente desconhecidos. Ainda estudei alguns, no meu tempo de estudante, mas foram caindo no esquecimento. Mas são figuras fantásticas. No D. Sebastião e o Vidente, por exemplo, não comecei por me interessar pelo rei.
Então?
Precisamente pelo vidente, Miguel Leitão de Andrada, escritor do século XVI, que escreveu um livro chamado Miscelânea, tal como Garcia de Resende, mas em prosa. Nele contava a sua ida para Alcácer Quibir com o rei. Apercebi-me que havia grande ligação entre essa figura praticamente desconhecida dos portugueses e o rei. Tinham, aliás, praticamente a mesma idade. Comecei a escrever o livro entrelaçando as vidas de ambos.
E Brás Garcia de Mascarenhas?
Era o mesmo tipo de figura, um pouco mais exacerbada, também desconhecida e injustiçada. Um poeta, guerreiro, apaixonado, com uma vida rocambolesca que se prestava muito à ficção.
Sentiu que tinha todos os ingredientes do herói.
Sim. Não se sabia muito sobre ele, o que me permitia ficcionar muito, mas sempre com a preocupação da História. A certa altura, conseguiram-me arranjar um livro que estava esgotadíssimo sobre ele, de António Vasconcelos. Foi uma fonte fantástica, que me permitiu avançar com o livro
Teve que fazer uma investigação muito apurada?
Até mais do que nos outros livros. Habitualmente, levo pelo menos três anos com cada livro. Este já vinha desde 2004, embora o tivesse interrompido muitas vezes. E sempre que o retomava, tinha que rever o que tinha escrito desde o início.
Por que o interrompeu tantas vezes?
Não sei, havia qualquer coisa que emperrava. Comecei por pôr Brás Garcia de Mascarenhas a contar os acontecimentos da sua perspetiva. Mas gosto sempre de dar vários ângulos, porque a vida tem muitas influências, relações, memórias. São essas correntes diversas que fazem viver também as personagens e os romances.
Como encontrou outras perspetivas?
Surgiu-me D. Francisco Manuel de Melo, um fidalgo militar com todas as questões da guerra associadas. A dada altura, senti que me faltavam as mulheres. E lembrei-me de Soror Violante do Céu, uma poetisa fantástica do tempo. Faltava-me de igual modo a parte diplomática e pensei em Padre António Vieira. Quando os encontrei a todos, senti que tinha quatro guias para fazer mergulhar os leitores naquele tempo riquíssimo e bastante trágico da nossa História. Interessava-me também dar a ideia do barroco, um período tão maltratado e fascinante. Mas para isso, precisava de uma estrutura para o romance, que pudesse dar o luxo e a miséria, as aparências e a realidade trágica das personagens, asfixiadas pelo domínio castelhano, pela Inquisição.
Como o resolveu?
Ocorreu-me a estrutura da Corte na Aldeia. Até porque, como a corte era em Madrid, Lisboa ficou uma verdadeira cidade de província. Os fidalgos mais abastados faziam pequenas cortes nos seus palacetes. E protegiam as artes, os poetas, os músicos. Uma das principais, a do duque de Bragança, em Vila Viçosa.
ELOS DE LIGAÇÃO
Que dificuldades sentiu com o curso da narrativa?
Sobretudo as ligações entre as diferentes personagens. Foi o que mais demorou a fazer, para não cair em falhas graves. Foi preciso perceber em cada momento onde estavam. A dada altura encontrei um elo de ligação.
Qual?
O facto de estarem todos presos. Pe. António Vieira está a contas com a Inquisição em 1663-1967, quando acaba o meu romance. Francisco Manuel de Melo esteve 12 anos preso na Torre de Belém e em Almada. Brás Garcia Mascarenhas também esteve preso várias vezes, embora escapasse sempre das formas mais fantásticas. E Soror Violante estava ‘presa’ no convento.
No caso de Soror Violante do Céu, o que a interessou?
Queria dar o domínio dos homens, a castração das mulheres, a vida dos conventos, onde, de resto, algumas mulheres iam encontrar alguma liberdade que não tinham em casa, nem na sociedade, o que lhes permitia realizarem-se como músicas ou poetisas. Quando tinham pais permissivos, quando muito frequentavam as universidades, mas vestidas de homens. Como sou muito feminista e acho que ainda estamos a pagar a fatura dos velhos testamentos e afins, tinha que dar o ponto de vista das mulheres, o seu sofrimento e também todo o lado cómico dos freiráticos, que é a parte mais atrevida do meu livro. Às vezes, quase coro ao lê-la… (riso) No fundo, procuro sempre tentar reviver as personagens da nossa História, que é riquíssima.
O que mais a estimulou, do ponto de vista literário, em 1640?
O grande desafio foi pôr as personagens-guias a falar na primeira pessoa, sendo um poeta épico, uma poetisa lírica, um prosador e homem de teatro e o maior pregador de todos os tempos. Não podia ser maior o desafio. A dificuldade foi não usar uma linguagem demasiado contemporânea e, por outro lado, não complicar para que os leitores possam entrar bem nas suas falas. Por isso tive que ter mil cuidados e estar sempre a ver e rever as palavras, questionando-me se na altura já utilizariam determinado termo.
Uma espécie de reconstituição histórica também da linguagem?
Sim. Por exemplo, a hoje tão usada ‘geringonça’ apareceu-me num texto oficial do séc. XVII e caiu como sopa no mel…
Uma ‘piscadela de olho’ à atualidade?
Até senti que havia muitos pontos de contacto com a nossa época.
Políticos?
Na verdade, enquanto escrevia o livro, estivemos sob uma ‘troika’ e, na altura, também havia a ‘troika’ castelhana a apertar a garganta do país, as pessoas a viverem na miséria, com muitas dificuldades, desprezadas, humilhadas e uma enorme revolta. E sempre aquela velha história que era preciso passar-se mal para o país ir para a frente. Afinal, o país estava a ser roubado e explorado por Espanha e por todos os países que até tinham sido nossos aliados, mas então exploraram o mais que puderam. Luísa de Gusmão disse que Portugal era como um pássaro a quem estavam a arrancar as penas das asas. E, por outro lado, está agora muito em voga um tema que é muito explorado no meu romance, a independência da Catalunha. Foi graças à revolta catalã que conseguimos levar a nossa avante.
ESPÍRITO DA ÉPOCA
Afirma que só escreve romances históricos. Porquê?
Divirto-me imenso, e escrever romances históricos permite-me estudar, que é uma coisa que mesmo aos 72 anos não consigo parar de fazer. Sempre tive essa curiosidade e vontade de conhecer.
E como veio do mundo da Literatura para o da História? Como era professora de Português, de língua e de Literatura, senti a necessidade de saber História para saber ensinar sobre os autores e as suas épocas. Tinha que saber muita História para ser uma boa professora de Literatura. Sobretudo das mentalidades. É isso que quero passar para os meus romances, não só os factos, os pormenores dos acontecimentos, mas o espírito da época, a maneira como as pessoas pensavam, sentiam e reagiam no seu tempo. E que evidentemente era muito diferente da nossa.
Não gostaria de experimentar outro tipo de romance?
Não. Vou escrever romance histórico até ao fim da minha vida. Mas interessa-me o género tal como aprendi, como se classificava na Literatura, um romance que permite ao leitor conhecer uma época, um acontecimento, uma determinada mentalidade. Não aceito as correntes modernas, segundo as quais o romance histórico pode ser tudo. Claro que, de alguma maneira, tudo é histórico, inclusive um romance sobre o que se passou esta semana. Mas, para mim, tem que passar conhecimento. Até para que o leitor acredite no autor da obra. Para isso, é preciso muita investigação. Ideias nunca me faltaram, mas o conhecimento de uma época leva-me sempre anos e anos. Fico colada ao computador por vezes 12 horas por dia e muitas vezes leio um volume de 400 páginas só para confirmar uma ideia ou tirar uma frase.
Por que escolheu trabalhar sempre o período entre os séculos XV e XVIII?
Apesar de conhecer bem igualmente a época medieval, apaixonou-me o Renascimento, o Barroco, os Descobrimentos, por ser o nosso século de ouro. Apesar de não ser tão conhecido como se possa pensar e de muitas vezes ser encarado como um período negativo. O português tem muito o costume de falar daquilo que não sabe. A ‘achologia’ é uma ciência muito nossa, e é uma pena. Porque temos que reconhecer os nossos erros e falhas, mas assumir o nosso passado. Sem o fazer, não conseguimos estar seguros no presente e perspetivar o futuro. Se os nossos políticos soubessem mais da nossa História, talvez nos governassem melhor.
Por exemplo, o que se passou em 1640….
Com o meu romance podiam aprender muito. Até devia ser uma cartilha para o Governo… (riso) Mas talvez não tenham coragem para ler um livro tão grande. Porque não sei se escrevo bem ou mal, mas faço um trabalho seríssimo de investigação e esse é o meu orgulho e a mais-valia dos meus romances.
Já está a escrever o terceiro romance da trilogia?
Ainda não comecei. Será sobre os filhos de D. João IV, o que dará também muito pano para mangas. São figuras que já foram tratadas por outros autores, mas espero fazê-lo de uma forma diferente. E cada escritor fará, como se sabe, o que lhe dita o coração ou a alma. E muitas vezes a moda. Nem todos, felizmente. Mas já estou a escrever outros livros. Não posso estar sem escrever. Não vivo da escrita, mas para a escrita. A escrita é que me engole e me gasta.
Que outros livros?
Um livro histórico de culinária. Não é, claro, um livro de cozinha, apesar de ter receitas, porque há muitos livros de cozinha e bons chefs por aí. Também não tem a ver com a história das receitas, antes das sensações ligadas à comida e que podem ligar à arte, por exemplo. Ou ao cinema… Já vai em 300 páginas. Espero que saia na altura da Feira do Livro. O outro é um diário de um navegador de que, por enquanto, vou guardar segredo.JL
 |
| Deana Barroqueiro “Vou escrever romance histórico até ao fim da vida” |
Gosto muito de dar aos leitores personagens verdadeiras da nossa História, os grandes valores, quase sempre literatos e que são hoje praticamente desconhecidos
%20-%20C%C3%B3pia.jpg)








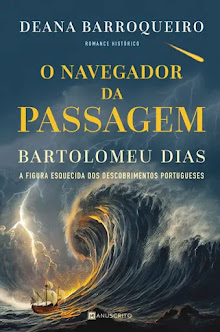







Sem comentários:
Enviar um comentário