O flagelo da Peste Negra era uma constante ameaça dos povos, durante a Idade Média e épocas seguintes. Em 1569, a Grande Peste matou 60.000 pessoas só em Lisboa. Luís de Camões regressou da Índia, nesse ano, um episódio que recrio no meu romance "D. Sebastião e o Vidente", de que transcrevo parte do Cap. 47, para quem tiver paciência de me ler possa ver as semelhanças:
Cap. 47«Quando a nau Santafé surgiu no porto de Cascais, tanto os tripulantes, como os passageiros sentiram o medo nos gestos das gentes que se azafamavam nos cais ou faziam serviço nos botes, que iam e vinham entre os molhes e os navios fundeados ao largo, a transportar mercadorias e viajantes.
– Que se passa? – perguntou Luís Vaz aos amigos que encontrou na coberta, debruçados na amurada a falar com os tripulantes de uma barcaça. Trazia ainda o rosto marcado pela dor da inesperada morte do poeta Heitor da Silveira, seu grande amigo e companheiro de viagem, cujo coração não resistira à emoção de avistar a pátria.
– É a Peste Grande, pesar do Diabo! – respondeu-lhe Diogo de Couto, o cronista, com uma ruga de profunda preocupação a vincar-lhe a testa. – Matou mais de metade da população de Lisboa!
Duarte de Abreu acrescentou:
– E dizem-nos aqueles dois que é um perigo entrarmos na cidade, pois a pestilência ainda causa mortes. Na zina do furor, ceifou por dia quinhentas a seiscentas pessoas! Deixou de haver sítio e gente para enterrar os mortos.
– Mau pecado! Assim, tão cedo não poderei imprimir os meus Lusíadas! – exclamou, com profunda mágoa, fazendo sorrir os companheiros apesar da gravidade da catástrofe.
***
Afligidos pelo seu sofrimento, haviam-lhe pagado as dívidas, a passagem e o fato para regressar a Lisboa, onde os esperavam a desolação e a morte. Por isso, não era de admirar que o seu primeiro pensamento fosse para Os Lusíadas, único tesouro, salvo a duras penas, durante um naufrágio em que perdera todos os seus bens, incluindo a formosa escrava que lhe adoçava o desterro. O desastre valera-lhe uma acusação de fraude, com o dinheiro dos órfãos, pela qual teria de responder na justiça.
– Terás de te quedar em Lisboa, apesar da peste, enquanto esperas pelo julgamento – lembrou Couto, preocupado. – Trataremos de mover influências para que se faça depressa justiça e te vejas absolvido e livre de falsas acusações.
Uma sombra perpassou pelo rosto do poeta, desfigurado pela perda do olho em Ceuta.
– A troco de descansos que esperava, / das capelas de louro que me honrassem, / trabalhos nunca usados me inventaram / com que em tão duro estado me deitaram!
Os amigos concordaram em silêncio, admirando a arte com que aquele génio, tão humilhado e desprezado, esculpia os versos atormentados da sua dor.
Diogo de Couto despediu-se e partiu para Almeirim, a fim de solicitar a el-rei licença para a nau poder entrar no Tejo e nos portos de Lisboa, encerrados por causa da peste.
Recebida a autorização real, o navio lançou âncora ao largo do Cais da Ribeira e os passageiros embarcaram nos escaleres que os levaram para terra. Sem o buliçoso fervilhar dos matalotes, estivadores e mariolas, Luís Vaz teve dificuldade em reconhecer, nos desolados molhes, o porto da capital portuguesa, centro de um riquíssimo comércio e destino final de inúmeros navios da Europa, da Carreira da Índia ou das Terras de Vera Cruz, comummente designadas por Brasil.
– Para onde ides agora? – perguntou-lhe Luís da Veiga. – Tendes pousada?
– Irei para casa de minha mãe, Ana de Sá.
– Acautelai-vos, Luís – falou António Serrão, sabendo que nada fazia recuar o poeta, nem mesmo o medo da morte. – Tratai de vos resguardar dos maus ares desta peste. Lembrai-vos d’Os Lusíadas!
Seguido pelo fiel escravo jau, que lhe transportava o modesto fato, Camões dirigiu-se para a sua antiga casa, na Calçada de Santana, atravessando a zona da Ribeira, outrora enxameada de gente – com os seus mercados, as tavernas e hospedarias, as tendas de malcozinhado, onde comera tantas vezes antes da sua partida para a Índia –, agora deserta e sem vida. Nas estreitas ruas e vielas, os prédios silenciosos, sem vizinhas às janelas nem roupas penduradas nas cordas, pareciam ameaçar os raros viandantes com as terríficas cruzes brancas pintadas nas portas, indiciadoras da passagem mortífera do Quarto Cavaleiro do Apocalipse.
Um físico, precedido de dois ajudantes empunhando archotes acesos, meteu-se num beco para dar passagem a Camões e poupá-lo ao perigo de contágio, pois a peste manifestava-se agora por outros sintomas mais perigosos do que os bubões, atacando os pulmões e o sangue, propagando-se com a velocidade de um raio.
O médico segurava numa das mãos a esponja embebida em vinagre, destinada a purificar o ar que respirava, usava a máscara de bico comprido, cheio de substâncias aromáticas, os vidros redondos sobre os olhos, para evitar a transmissão do mal pelo olhar dos enfermos, a veste violeta e o bastão vermelho de S. Roque que o mostravam à população como Mestre da Peste. O poeta agradeceu e cortejou-o à passagem, sentindo admiração pelo físico que, ao contrário de muitos outros, não fugira da cidade, nem abandonara os doentes à sua sorte.
– Luís Vaz, que fazes aqui, nesta terra desventurada?
O homem magro, de roupas sujas e desalinhadas, saíra de uma das casas e parara diante dele, olhando-o com espanto. Tinha o rosto macilento, parecendo um morto-vivo, e Camões não o reconheceu.
– Sou o Gonçalo Fernandes, o mestre de escrita de Trancoso. Não me reconheces? – Não havia alegria nem calor na sua voz. – Também não é para admirar, com tudo o que passei...
Gonçalo Fernandes de Trancoso, o homem que gostava de escrever "histórias de proveito e exemplo"! Nem parecia o mesmo e o poeta mentiu:
– Como não havia de te conhecer, homem?! Mas acabo de chegar da Índia e ainda não me recompus do abalo de ver Lisboa em estado de sítio. Graças a Deus que te encontro são e vivo, meu amigo!
– Preferia mil vezes a morte ao castigo que Deus me deu! – revoltou-se, e as faces afoguearam-se de vermelho, que as lágrimas grossas depressa descoloriram. – A peste roubou-me em poucos dias uma filha e um filho moços, um neto e, por último, para meu maior desespero, a minha adorada mulher. Vai-te daqui, homem, enquanto é tempo. Eu fico, que ando a buscar a morte.
Cheio de mágoa, ficou a vê-lo afastar-se, correndo, com o olhar perdido de um louco. Os sinos dobravam em sinal de luto e só os condenados, com vestes de bocaxim, a arrastar as suas grilhetas, se viam nas ruas transportando em carroças os empestados para o hospital e casas de saúde ou os cadáveres para as enormes valas comuns, onde se chegavam a enterrar sessenta corpos na mesma cova.
Tal como acontecera em outros anos de peste negra, estes criminosos, a quem os reis ofereciam o perdão em troca de tão perigoso serviço, não deixariam de se aproveitar da função para assassinar e roubar os moribundos que achassem sozinhos dentro das suas casas. O poeta tapou a boca e o nariz com um lenço, para evitar o cheiro a pestilência e morte, que lhe revolvia as entranhas, entontecendo-o de mareio.»
Deana Barroqueiro – D. Sebastião e o Vidente

%20-%20C%C3%B3pia.jpg)








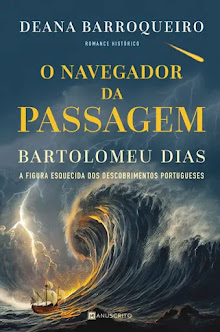







Sem comentários:
Enviar um comentário