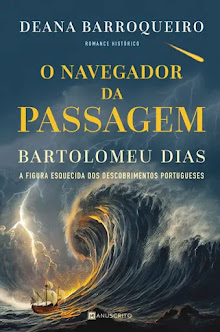Crónica Quinta:
António Correia e o Tratado de Pegu (1519)
 |
| Templo de Shwedagon |
Os pegus não
queriam consentir os feringhis, os
estrangeiros, nos seus portos e António Correia enviara ricos presentes ao rei –
em que sobressaíam uma tapeçaria de Veneza, pimenta no valor de alguns contos
de reis, peças de brocado, drogas, essências e porcelanas da China –, assim
como ao toledão barja que era uma
espécie de primeiro ministro, com cerca de metade da valia do presente real e, embora
mais modestas, a outros mandarins influentes de Pegu.
Contudo, se Malaca
não podia dispensar a aliança com Pegu, que a provia de alimentos, principalmente
de arroz, e também de ajuda militar contra os assaltos do rei de Bintão ou dos
achens, em caso de necessidade, o contrário também era verdadeiro, pois este
reino tão pouco poderia prosperar sem os portugueses. Os Governadores da Índia
e os Capitães de Malaca estavam muito mais interessados na aliança com o reino
de Pegu do que com o de Sião, que começava a ser engolido pelas nações
vizinhas.
António Correia
fizera tudo para que o tratado fosse assinado e o seu esforço fora recompensado:
el-rei acedera a concertar as pazes com os portugueses e o tratado ia ser assinado
em cerimónia soleníssima no templo da cidade que se enchera de gente.
– A cidade
engalanou-se com toda a pompa – veio dizer-lhe o espia que Correia enviara ao
templo, para não ser apanhado de surpresa por qualquer ardil de última hora. – O
pagode reluz de ouro e pedraria e até os livros sagrados são dourados. O
sacerdote e o ministro já vos esperam.
 |
| As varredeiras do Templo, descritas pelos nossos viajantes quinhentistas |
O embaixador percebeu que os pegus esperavam deslumbrá-lo
com o fausto e a riqueza da parafernália usada no ritual.
Escreviam da
esquerda para a direita, como na Europa, gravando com estilete de ferro as
folhas de palma, ou em placas de marfim finas como folhas de papel e também de
bambu, chapeadas e envernizadas, com a superfície revestida de folha de ouro e
pintadas e com iluminuras nas margens a vermelho e verde com letras a negro
brilhante.
– Esses livros dos templos são preciosos e nós não trazemos Bíblia
ou missal com iluminuras que se lhes possa comparar – lamentou-se.
Ao ver um singelo
breviário nas mãos do capelão da nau, que o iria acompanhar na função de Rolim, disse-lhe numa voz que não
admitia réplica:
– Não posso fazer
o juramento sobre esse livro, meu padre, porque haveria de parecer de pouca
valia aos gentios, como se não nos importasse a nossa religião. Temos aí outra
obra que servirá melhor a este propósito.
Desembarcaram com
grande aparato, trajados com as suas melhores galas e exibindo espadas e
punhais de cerimónia com os punhos dourados e, os dos mais nobres, cravejados
de pedras preciosas. Abriam o cortejo dois capitães que transportavam, à
maneira de relicário, uma almofada de brocado dourado, onde repousava um grande
livro coberto por um pano de veludo carmesim; a seguir ia o embaixador, de
chapéu emplumado e vestido como para uma audiência com o Papa, ladeado pelo
capelão, de sobrepeliz branca e com uma cruz de prata nas mãos; por último, formando
uma lustrosa comitiva, os oficiais, os mercadores principais e um corpo de
guardas armados.
No templo havia
uma gigantesca estátua de Buda deitado, com um braço por cima do rosto. Diante
dela, no chão, tinham estendido um espesso tapete onde fizeram sentar o embaixador
e o padre, junto do Rolim-mor e do Cemim Bolegão que já os esperavam.
O
ministro tirou de uma caixa de marfim a folha de ouro batido onde vinham
escritas as capitulações, que um dos seus oficiais leu em voz alta, em língua mon, por duas vezes para ser entendido
pela assistência, tendo António Correia dado a sua folha também de ouro escrita
em português. Assinadas ambas pelo ministro e pelo embaixador, procedeu-se ao
juramento, feito com muita reverência e ouvido pela assistência com tal
acatamento e silêncio, que deixaram os portugueses pasmados com a sua devoção.
O Rolim leu no magnífico livro, trabalhado
a folha de ouro, a lenda da origem de Pegu que o língua trasladou; acabada a
leitura queimou uns papéis amarelos perfumados, com inscrições, sobre cujas
cinzas o ministro pôs as mãos, dizendo:
– Em nome d’el-Rei
juro que tudo o que aqui foi assentado é firme e valioso.
Chegara a vez do
embaixador do reino de Portugal de prestar o seu. O capelão tomou o livro da
almofada e levou-o para junto do Rolim, abrindo-o à sorte para António Correia
ler. Era a única obra de folha de papel inteira que tinham na nau, um
Cancioneiro de trovas de fidalgos e pessoas principais que Garcia de Resende, o
escrivão da puridade d’el-rei D. João II, tinha mandado imprimir e servia nas
viagens para desenfadamento da tripulação, sendo lido aos serões ou por ocasião
de alguma festa, pelo capelão ou por quem o soubesse fazer.
Sabendo como
aquele povo só guardava juramento enquanto lhe convinha o negócio, para mais
depois da leitura que o Rolim fizera da lenda como se fora um texto sagrado, o
Cancioneiro Geral até vinha a propósito. O embaixador pôs os olhos na página
aberta e começou a ler a trova de Luís da Silveira, o Conde de Sortelha:
Vaidade das vaidades
e tudo é vaidade,
assi passam as vontades
com’às cousas da vontade.
Tudo se já desejou
e tudo s’avorreceu
e tudo se já ganhou
e tudo se já perdeu.
O poeta glosava a
sentença de Salomão, no Eclesiastes, Vaidade
das vaidades, e tudo é vaidade e, à medida que ia lendo as palavras da
trova, o embaixador sentia um arrepio de medo supersticioso a trespassar-lhe o
corpo. Não fora talvez por acaso que o livro se abrira naquela precisa página,
pois o poema soava-lhe aos ouvidos como um aviso ou uma censura por estar a
fazer uma farsa daquele juramento. Esforçou-se para que a voz não tremesse, prosseguindo
com a leitura:
(…) O sisudo e o sandeu
tudo vi que tinha fim,
e disse então entre mim:
– Que me presta o saber meu?
Ignorantes e prudentes
todos têm ūa medida,
na morte nem nesta vida
não nos vejo diferentes.
Um suor frio
corria da testa de António Correia, parecendo-lhe estas palavras tão poderosas
como se estivesse a jurar sobre as da Bíblia. Leu a última estrofe, com uma voz
que ressumava de emoção que não logrou conter, enquanto prometia para si
próprio, a fim de apaziguar o bater assustado do coração, que cumpriria o seu
juramento com custo da sua vida, porque não podia invocar a Deus com falsidade
e enganos, mesmo em negócios com gentios de outra fé:
(…) O justo, o sabedor
e o mais cheio de fé
nenhum não sabe se é
dino d’ ódio se d’ amor.
Quantos isto faz perder,
porqu’ a quem a fé não dura
encomenda-s’ à ventura
e deixa de merecer.
Palavras
proféticas, as do poeta, decerto inspiradas por esse sopro divino que dizem ser
o alento dos vates. O silêncio que se fizera no templo era quase religioso,
talvez devido à emoção com que lera os versos e que encontrara eco no coração
dos pegus. Porém, no coração de alguns mouros mercadores que estavam presentes
ao acto do juramento, a paixão era outra, de puro ódio, com medo de perderem os
grandes lucros que tinham com os tratos das suas fazendas se os portugueses
começassem a vir ao Pegu. E logo juraram de fazer quebrar as pazes assinadas
pelos seus inimigos.
(Adaptado de "O Corsário dos Sete Mares –
Fernão Mendes Pinto". Fotos do templo Shwedagon Paya ou Pagode de Degom, por Deana Barroqueiro)

































%20-%20C%C3%B3pia.jpg)