José Pacheco Pereira, no Público
Já que há por aí abundantes “pressões” para que
o Tribunal Constitucional não aplique a Constituição, venho aqui “pressioná-lo”
para que a aplique.
Não é por razões
jurídicas, nem de interpretação constitucional, para que não pretendo ter
competência, mas por razões de política e democracia, que é a razão suprema pela
qual temos uma Constituição e um Tribunal Constitucional. É pela Constituição
escrita e pela não escrita, aquela que consiste no pacto que a identidade
nacional e a democracia significam para os portugueses como comunidade. É por
razões fundadoras da nossa democracia e de todas as democracias e não conheço
mais ponderosas razões que essas, porque são os fundamentos do nosso contrato
social e político que estão em causa, muito para além das causas daqueles que se
revêem na parte programática da Constituição.
Eu revejo-me em coisas mais fundamentais, mais
simples e directas, que também a Constituição protege e de que, por péssimas
razões, hoje o Tribunal Constitucional é o último baluarte. O Tribunal
Constitucional é hoje esse último baluarte, o que por si só já é um péssimo
sinal do estado da democracia, porque todas as outras instituições que deviam
personificar o “bom funcionamento” da nossa democracia ou não estão a funcionar,
ou estão a funcionar contra. Refiro-me ao Presidente da República, ao Parlamento
e ao Governo. E refiro-me de forma mais ampla ao sistema político-partidário que
está no poder e em parte na oposição. Quando falha tudo, o Tribunal
Constitucional é o último baluarte antes da desobediência civil e do resto. Se
me faço entender.
Há várias coisas que num país democrático não
se podem admitir. Uma é a teorização de uma “inevitabilidade” que pretende matar
a discussão e impor uma unicidade na decisão democrática. Tudo que é importante
nunca se pode discutir. A nossa elite política fala com um sinistro à-vontade da
perda de soberania, do protectorado, da “transmissão automática” de poderes do
Parlamento para Bruxelas, sem que haja qualquer sobressalto nacional, até porque
são aspectos de uma agenda escondida que nunca se pretende legitimar
democraticamente, mesmo que atinja os fundamentos do que é sermos portugueses. É
um problema para Portugal como país e para a União Europeia enquanto criação
colectiva em nome da paz na Europa e que está igualmente presa numa agenda
escondida, a que deu a Constituição Europeia disfarçada de Tratado de Lisboa, o
Pacto Orçamental para “pôr em ordem” os países do Sul, e a que permite a
hegemonia alemã e das suas políticas nacionais transformadas em
Diktat. Uma parte da perda de democracia e da soberania em
Portugal, com a constituição de uma elite colaboracionista, vem do contágio de
uma União Europeia cada vez menos democrática.
Em nome de um “estado de emergência financeira”
que umas vezes é dramatizado quando convém e outras trivializado quando convém,
seja para justificar impostos, cortes de salários e pensões, na versão “estado
de sítio”; ou para deitar os foguetes com o 1640 da saída da troika
e do “milagre económico”, na versão “já saímos do programa”, considera-se
que nada vale, nem leis, nem direitos, nem justiça social.
A teorização da “inevitabilidade” tem relação
com a chantagem sobre o que se pode discutir ou não. Que um ministro
irresponsável resolva avançar com números dos juros pré-resgate, isso só se deve
à completa falta de autoridade do primeiro-ministro, traduzida na impunidade dos
membros do Governo. Mas, quando se considera que os portugueses não devem
discutir seja o resgate eventual, seja o chamado “programa cautelar”, está-se no
limite de uma outra e mais perigosa impunidade: a de que os “donos do país”, a
elite do poder, os cognoscenti, mais os seus consiglieri no
sentido mafioso do termo, na alta advocacia e consultadoria financeira, o sector
bancário e financeiro, o FMI, o BCE, a Comissão Europeia, podem decidir o que
quiserem sobre os próximos dez ou 20 anos da vida dos portugueses sem que estes
sejam alguma vez consultados. Aliás, é mais do que evidente que a pressão sobre
o PS para que valide a política do Governo e da troika, e que assuma
compromissos de fundo com um “programa cautelar”, que pelos vistos antes
existia, mas agora não existe, destina-se a tirar qualquer valor ao voto dos
portugueses. A ideia é que votando-se seja em quem for, a não ser que houvesse
uma maioria PCP-BE, a política seria sempre a mesma. Esta transformação das
eleições e do voto em actos simbólicos de mudança de clientelas, sem efeito
sobre as políticas, é o ideal para os nossos mandantes e para os nossos
mandados, e é uma das suas mais perigosas consequências.
(Continuar a ler em Abrupto:
http://abrupto.blogspot.pt/2013/11/nao-e-defender-constituicao-e-defender.html)
http://abrupto.blogspot.pt/2013/11/nao-e-defender-constituicao-e-defender.html)

%20-%20C%C3%B3pia.jpg)








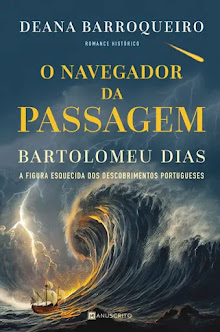







1 comentário:
B R A V O!!!
Enviar um comentário