No dia 28 de Março passado, participei no 29º Colóquio Internacional da Lusofonia, convidada pela Câmara Municipal de Belmonte, para apresentar o meu novo romance «1640». A minha maior surpresa foi ter verificado, já depois de ter escrito um trabalhoso artigo para as Actas do Colóquio, que os seus organizadores exigiam a todos os participantes que escrevessem segundo o AO, mesmo os daqueles países que não o assinaram, o que é inconcebível. Não podia recusar o compromisso que assumira com a Câmara, por isso adaptei o meu discurso à minha indignação. E deixo-vos aqui os excertos que têm que ver expressamente com o que penso do crime que foi cometido contra a língua escrita que eu amo. Lembro que na sala havia altos responsáveis pela criação do dito AO:
«1640»: Quando a realidade e a lenda se fundem nasce o romance
histórico
Assim, também me espantou que, neste colóquio, que é uma ocasião única para se poder apreciar as variantes tão ricas da portuguesa língua, se tenha imposto essa malfadada uniformização da escrita, que não é outra coisa senão uma canhestra mutilação, a todos os participantes dos países que o recusaram: Não perdem ocasião de impor pela força aquilo que não conseguem com a razão.
Recuso o corte das consoantes mudas que podem não se ouvir, mas falam na escrita com a linguagem dos sinais, mostrando-nos a sua origem e diferenciação, nos seus étimos e raízes. Esse (Des)Acordo nem toma em consideração as variantes dialectais do nosso próprio país, onde há zonas em que a mesma palavra se pronuncia com C e noutras é muda.
Trabalhar a nossa língua em todos os seus registos é um prazer divino e a maior motivação da mi nha escrita. «1640», o meu último romance, levou esse exercício mais longe do que me permiti sonhar. Amo este país e a sua cultura por isso só escrevo romances históricos de temática nacional, a partir das histórias daqueles que souberam criar, desenvolver e manusear a nossa língua com infinita mestria e originalidade, de que nós hoje somos fracos herdeiros. Na minha trilogia dos Descobrimentos – O Navegador da Passagem, O Espião de D. João II e O Corsário dos Sete Mares – recorri ao estilo e linguagem dos cronistas dos séculos XV e XVI, em que a língua ainda se encontrava em processo de desenvolvimento, transbordante de criatividade; em D. Sebastião e o Vidente, mas, sobretudo, no «1640», que aqui venho apresentar, pude gozar com toda a plenitude a volúpia da Língua Portuguesa, que atingiu as maiores alturas no século XVII.
Ao escolher para guias do leitor, quatro dos seus maiores mestres e cultores, fui forçada a meter-me na pele (ou a meter sob a minha pele) o épico Brás Garcia de Mascarenhas, a poetisa lírica Soror Violante do Céu, o maior prosador ibérico seiscentista D. Francisco Manuel de Melo e o pregador António Vieira, que deslumbrava pelo virtuosismo da expressão. Quatro narrações feitas em 1ª pessoa, que constituíram, para a escritora, um tremendo desafio, mas também um prazer sem limites.
O romance está construído como um puzzle ou uma teia de intertextualidades documentais, geográficas, literárias, filosóficas, religiosas, sociais e culturais, para envolver o leitor, de modo a que ele possa sentir o prazer estético da leitura, aprofundando em simultâneo o seu conhecimento da época em que decorre a acção. No século XVI, passada a euforia da grande odisseia dos descobrimentos de outros mundos até então encobertos aos europeus, a crise endémica portuguesa, provocada pelos problemas políticos, económicos e sociais, vai culminar no desastre de Alcácer-Quibir e na posterior anexação de Portugal por Espanha. O romance 1640 reflecte esses tempos de crise e da vida problemática das suas gentes. Sendo obra de ficção, tem como principal objectivo o prazer estético da leitura, por isso o escritor frui de uma liberdade criativa que é negada ao historiador; contudo, enquanto género histórico, o romance exige uma componente de informação e conhecimento da História que o distingue e singulariza em relação a todos os outros tipos de romance. O que, para ser feito com honestidade intelectual e respeito pelo leitor, implica da parte do seu autor um estudo de alguns anos, não só dos factos narrados, mas sobretudo da sua contextualização, nos múltiplos aspectos de cada época e da mentalidade dos seus actantes.
O desastre de Alcácer-Quibir (com que termina o romance D. Sebastião e o Vidente), a crise dinástica, a guerra civil e a anexação do reino por Filipe II de Espanha, numa pretensa União Ibérica, são os antecedentes do romance 1640, em que Portugal foi arrastado para os conflitos do Império espanhol, em particular, da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), uma das mais destrutivas da Europa. A fim de alimentar a guerra em várias frentes, Filipe IV de Espanha e o conde-duque de Olivares, fazendo tábua-rasa dos acordos sobre a autonomia de Portugal, esgotaram os seus recursos humanos e materiais, destruindo a economia e esmagando o povo com impostos, que eram aplicados não em benefício dos portugueses mas dos espanhóis, transformando o reino numa das mais pobres províncias da Península Ibérica.
Olivares contou com os serviços de
funcionários portugueses submissos e interesseiros, como Diogo Soares, em
Madrid, e Miguel de Vasconcelos, em Lisboa, os bons alunos do Ministro
estrangeiro, que não só obedeceram às suas directrizes, como foram mais longe
na imposição de sacrifícios aos seus compatriotas, reduzindo-os à miséria e à
fome. Ao estudar a crise social, económica e política de Portugal, nos textos deste
período, foi possível estabelecer um paralelismo entre este triunvirato de
governantes seiscentistas e a Troika que nos veio governar, em 2011, imposta
pelo FMI/instituições europeias, com os seus nefastos resultados.
Nestes períodos de crise, Portugal
procurou uma panaceia ou incentivo contra o pessimismo e a estagnação do país,
na afirmação da sua nacionalidade e identidade colectiva. E nada melhor para
valorizar a nação do que atribuir-lhe origens divinas ou tão antigas, que
remontassem a um tempo anterior à sua criação, legitimando-a. Assim, como
princípio fundador, mais remoto, surge a identificação de Portugal com a
Lusitânia e dos portugueses com os Lusos ou Lusitanos, e consequente
apropriação do herói Viriato e da sua luta pela autonomia do território, como
matriz e origem histórica de Portugal, uma tese veiculada e exaltada pela
Literatura, com expressão máxima nos Lusíadas,
de Luís de Camões, no século XVI, e no Viriato
Trágico, de Brás Garcia Mascarenhas, no XVII.
A reforçar essa legitimidade, uma tese
posterior vai atribuir origem divina à fundação do reino de Portugal, por D.
Afonso Henriques, sacralizada, em 1139, pelo milagre de Ourique, na sua anunciada
visão de Cristo crucificado a prometer-lhe a vitória contra os cinco reis
mouros. Um milagre que o consagra rei, em pleno campo de batalha, e que será descrito
em futuras crónicas, servindo de argumento para a sua legitimação pelo papa. Sobrepondo-se
à valorização política dos dois princípios fundadores, coexistiam três crenças
messiânicas, que indicavam 1666 como o
annus mirabilis: a dos judeus e cristãos-novos para a vinda do seu Messias;
a dos sebastianistas para o regresso d’El-Rei Dom Sebastião; e a dos milenários
à espera da destruição do Turco e da instauração de um Quinto Império, cristão
e universal, que Bandarra mencionava nas suas Trovas.
O povo oprimido começou a ansiar pelo
regresso do rei D. Sebastião, desaparecido sem deixar rasto no campo de batalha
e identificado com o Encoberto das
profecias do sapateiro santo. Uma
crença que foi crescendo, cada vez mais forte, durante o domínio dos três
Filipes, alimentando a esperança do povo português na sua libertação. Padre António Vieira defenderá a deia do Quinto
Império, o Império de Cristo, para um período de mil anos, que terá
Portugal como guia, quando todos os pagãos, judeus e muçulmanos forem convertidos
ao catolicismo, o reino do Deus único e verdadeiro.
O romance 1640, apoiado em inúmeras fontes documentais coevas e actuais,
procura fazer um retrato verosímil do Portugal seiscentista, dos seus conflitos
internos e das suas difíceis relações internacionais, numa luta pela sobrevivência
como nação independente. A acção decorre num período de cinquenta anos
(1617-1667), riquíssimo em acontecimentos, dramas e personagens.
No dia 1 de Dezembro de 1640, os
portugueses dos três Estados – povo, clero e nobreza – soltaram o grito de
liberdade e tomaram o destino do país nas suas mãos, iniciando uma intensa luta
para sair da crise pelos seus próprios meios, num Portugal esgotado e acossado
por nações inimigas – a Espanha e as suas aliadas –, mas também pelas «amigas»,
como a Inglaterra e a França, que impuseram condições esmagadoras em troca da
sua ajuda. Tal como nos nossos dias.
A estrutura formal da obra foi
inspirada na Corte na Aldeia, de
Francisco Rodrigues Lobo, que, ao estilo da época barroca e em total sintonia
com a intriga, recorre aos Diálogos entre várias personagens que discutem,
comentam e problematizam os assuntos mais variados, introduzindo os capítulos
narrativos dos sucessos que mais os marcaram, preocuparam ou divertiram.
Durante a dominação filipina, os
reis e a Corte residiam em Madrid, centro de acção e decisão sobre todos os
assuntos do Império Espanhol e das suas relações com o mundo, mas também um
lugar privilegiado de criação e promoção de progresso, cultura e
entretenimento. Lisboa, a antiga residência da dinastia de Avis, perdeu assim o
seu estatuto de Corte régia, transformando-se em mera capital de província.
Cansada de correr para Espanha, a
mendigar mercês, parte da nobreza de Portugal retirou-se para os seus domínios,
no campo, onde fez florescer as «cortes de aldeia», que procuravam imitar,
segundo o estatuto e as posses dos seus senhores, as Cortes régias, com
mecenato a escritores, músicos e outros artistas. A mais fulgurante, em
dimensão e importância, foi a dos duques de Bragança, em Vila Viçosa, cujo
cerimonial cortês era idêntico ao de Madrid.
Uma
mentalidade barroca que, segundo Vitorino Magalhães Godinho, “anseia pelo
fausto e pela exibição, nos círculos nobres como nos religiosos – uma
religião de exuberância decorativa, aquietando-se nos ritos de subterrâneas
inquietações, satisfazendo-se na exterioridade de uma insatisfeita
interioridade”. Assim, nas
cidades, essa função cultural e intelectual é assumida nos conventos pelas
freiras, cultas e de nobre ascendência, alguns célebres quer pelos seus Outeiros (representações teatrais,
concertos musicais, saraus de poesia e produção literária), quer pelos
escândalos de cariz licencioso das suas religiosas.
Na primeira parte do romance, o
narrador é o poeta Brás Garcia de Mascarenhas, autor do Viriato Trágico, a grande epopeia seiscentista cujo herói é o pastor dos Montes Hermínios, com a sua
luta contra os romanos, que simboliza a revolta dos portugueses contra a
ocupação espanhola. Brás é a personagem de maior relevância, embora desconhecida
dos portugueses, que pretendi resgatar ao limbo do esquecimento, restituindo-a
a um merecido lugar entre os maiores vultos da cultura portuguesa. Nascido em
Avô, amante traído, proscrito e aventureiro, Brás vai conduzir o leitor pelo
dédalo de sucessos anteriores à Restauração, como as guerras do Brasil contra
os holandeses, a sua amizade com António Vieira, as experiências com os índios
e a sua complexa vida amorosa.
Na segunda parte, guia-o Soror
Violante do Céu, desde o convento da Rosa, em Lisboa. Cultora do conceptismo e
cultismo, tanto na poesia de temática religiosa como na de cariz secular/erótico.
Celebrada pelos seus contemporâneos, como a Décima
Musa e a Fénix dos Engenhos
Portugueses, dará a conhecer a situação e vida das mulheres de seiscentos,
enclausuradas sem vocação nos conventos, algumas desde a infância, uma prisão
que, paradoxalmente, era para muitas uma libertação da tirania masculina
castradora, permitindo-lhes estudar e exercer os seus talentos de artistas,
letradas ou cientistas, o que de outro modo lhes era vedado pelos homens, sob o
pretexto de serem intelectualmente inferiores.
Na terceira parte, os conflitos de
ordem militar serão relatados por D. Francisco Manuel de Melo, o grande
prosador e poeta do século. Na prisão da Torre, este Fidalgo de Dom, aparentado
com a Casa de Bragança, militar e marinheiro, foi vítima de uma Justiça
corrupta (um traço comum às quatro personagens) que o condenou a doze anos de
prisão e ao exílio no Brasil. O seu testemunho permite tomar conhecimento da
intrincada rede de conspirações, espionagem e traições com que Portugal e D.
João IV se debateram para ganhar a liberdade.
Na quarta parte, o leitor é levado pelas
palavras e reflexões do jesuíta António Vieira, o mais brilhante pensador e
pregador de todos os tempos, que o guiará pelos meandros da diplomacia nacional
e internacional, em que D. João IV se vai empenhar num dificílimo jogo de
custosas alianças, para que Portugal possa recuperar o seu estatuto de nação
independente. No cárcere da Inquisição, entre 1663 e 1667, ano em que termina o
romance, Padre António Vieira, relembrando a sua vida passada, dará conta dos
mais significativos sucessos em que participou até à crise política interna, do
reinado de D. Afonso VI.
A complexidade do assunto a tratar implicou
o estudo de uma infinidade de temas, porque só no cruzamento de saberes se pode
alcançar o multifacetado conhecimento de uma época, um trabalho que se arrastou
por treze anos de investigação, embora alternando a sua escrita com a da
trilogia dos Descobrimentos.
1640 é uma data fulcral da nossa
História, que mudou o destino da nação, pois, sem a Restauração, Portugal não
seria o mesmo e talvez não passássemos hoje de uma pobre província espanhola, a
falar um dialecto e a sonhar com a independência, como a Catalunha, cuja
revolta ajudou então à nossa libertação. Assim como, sem a Expansão Marítima
Portuguesa, ou seja, sem os Descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI, os
países da Lusofonia não existiriam como tal, nem falariam a Língua Portuguesa
em todos os seus ricos matizes e este Colóquio não teria razão para existir. Deo gratias, por isso não ter
acontecido.


%20-%20C%C3%B3pia.jpg)








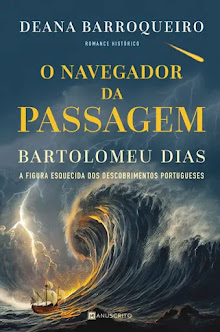







Sem comentários:
Enviar um comentário